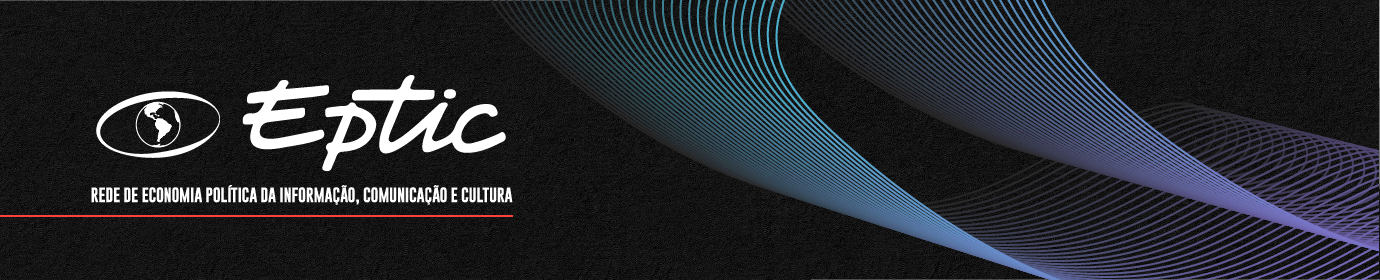Ana Carolina Westrup*
No Brasil, um dos cenários de maior concentração econômica está presente no sistema midiático de radiodifusão. Formado por uma lógica em que o Estado privilegiou, historicamente, a iniciativa privada na prestação destes serviços, temos a cristalização de um mercado representado por apenas cinco grupos de comunicação detendo a propriedade de 26 dos 50 veículos de maior audiência no Brasil, como mostra o Monitoramento da Propriedade da Mídia.
Esse contexto se inicia na expansão do rádio, com o primeiro conglomerado de comunicação no Brasil: Emissoras e Diários Associados. Criado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand com atuação até a década de 50, as Emissoras e Diários Associados possuíam mais de 36 emissoras de rádio, 34 jornais diários, 18 emissoras de televisão e várias revistas.
Em 1965, o cenário se complexifica com a entrada das empresas Globo, que já possuíam jornal O Globo, da Rio Gráfica Editora e da Rádio O Globo, e passam a investir também no mercado brasileiro de televisão, com a inauguração a TV Globo, fruto do acordo com o grupo internacional Time Life e sua expansão se dá de forma exponencial nos anos seguintes, adquirindo uma liderança de mercado frente a audiência em praticamente todos os seus produtos televisivos. Com a adoção de estratégias de qualificação de público, os programas globais, principalmente os ligados ao padrão “horário nobre” atingem recordes de espectadores. Em exemplo figura o Jornal Nacional, que ainda na década de 80 já registrava mais de 70 milhões de pessoas consumindo o seu conteúdo.
Aliado a esse modelo de expansão do setor de radiodifusão comercial, o caso brasileiro ainda possui a especificidade de um número significativo de grupos políticos detentores de concessões públicas de radiodifusão. Em 2007, o Intervozes publicou uma revista com informações importantes sobre como se deu as concessões de rádio e TV, anos antes da Constituição de 1988.
O início se deu nos últimos momentos do governo do General João Batista de Figueiredo, através de um processo de barganha política em que a principal moeda de troca foram as concessões e outorgas de rádio e TV. Durante todo o ano de 1983 foram outorgadas 80 concessões públicas de rádio e TV, nos últimos dois meses do Governo Figueiredo, e praticamente às vésperas da convocação da Assembleia Constituinte, foram autorizadas 91 concessões, a grande maioria relacionada a setores conservadores e grandes grupos econômicos e políticos.
Essa prática de concessão de outorgas como elemento de negociação para apoios políticos tem continuidade no governo de José Sarney. O presidente e seu ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, distribuíram 1.028 concessões de TV e rádio até a promulgação da Constituição Federal. Em troca, os parlamentares aprovaram cinco anos de mandato para Sarney. Esse contexto relacionado aos políticos detentores de concessão de radiodifusão foi denunciado pela campanha Coronéis da Mídia, marcando a Semana pela Democratização das Comunicações em 2014, ação que se seguiu nos anos posteriores.
Já em 1989, um ator importante entra no sistema dos medias no Brasil. Com a aquisição da emissora Record, o Bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) com sua estratégia de evangelização eletrônica, consolida a emissora como segunda maior rede de televisão no país, em 2008, com 17% da audiência nacional entre 7h da manhã e meia noite, já competindo a audiência com a Globo em telenovelas, programas de auditório e transmissões de jogos. Da mesma forma que o Grupo Globo, o conglomerado Record possui gráficas, rádios, s emissoras de TV, os portais de notícias, como o R7 e, em 2018, a plataforma de streaming, Play Plus. Apoiando o governo de Jair Bolsonaro, como também governos anteriores, à esquerda e à direita, Edir Macedo obteve apoios significativos em verbas publicitárias, abocanhando cerca de R$ 10, 3 milhões de reais. O Grupo Record não está sozinho: nove dos 50 veículos de maior audiência no Brasil hoje pertencem a lideranças e igrejas religiosas cristãs (evangélicas e católicas).
Os ataques à comunicação pública
No outro lado da moeda, a comunicação pública vive, atualmente, sobre um intenso ataque. O caso da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é um bom exemplo para essa afirmação. Em maio de 2007, seguindo o princípio constitucional da complementaridade entre os sistemas público, privado e Estatal, os contornos da Empresa Brasil de Comunicação foram estruturados a partir das discussões do 1º Fórum de TVs Públicas, organizado pelo Ministério da Cultura, na época comandado pelo Ministro Gilberto Gil.
Entretanto, desde 2016 a EBC está em profundo ataque, desde a cassação do Conselho Curador, um espaço fundamental para a participação da sociedade civil sobre as diretrizes da empresa pública, culminando com a tentativa de privatização da EBC, incluída em março deste ano no Plano de Desestatização do governo Bolsonaro.
O que vemos, portanto, é a consolidação de uma concentração midiática, de forma vertical e horizontal, que tem como consequência a baixa percepção da população sobre esse serviço como direito. Ou seja, essa conformação de mercado trouxe consigo esse distanciamento do caráter público e educativo do setor da radiodifusão e isso se reflete quando discutimos a agenda de regulação dos meios de comunicação, em que os próprios meios, que estão em uma condição privilegiada no debate público, trazem a narrativa de censura à imprensa para distorcer a necessidade de um debate sobre a democratização da mídia brasileira.
Em 2014, entidades que atuam pela democratização da comunicação, por meio da Campanha para Expressar a Liberdade, elaboraram o projeto de lei de iniciativa popular da comunicação social eletrônica, que ficou mais conhecido por Lei da Mídia Democrática, e traz uma série de propostas para regulamentar os meios de comunicação no Brasil. O projeto aponta caminhos para promoção da pluralidade de ideias, fomento à cultura nacional, de maneira diversa e plural, universalização dos serviços essenciais de comunicação e participação popular na definição das políticas públicas de comunicação, entre outros pontos.
Entretanto, a ausência de vontade política e um trabalho incessante de distorção dos meios de comunicação tradicionais sobre o tema nos abriga sob um marco regulatório para a radiodifusão das décadas de 1930 e 1960, uma estagnação que expressa a vontade comercial e política dos empresários do setor.
Monopólios Digitais
Em que pese os dados ainda muito presentes de exclusão digital no Brasil e as discrepâncias de acesso, a TIC domicílios de 2020 revelou que o Brasil tem 152 milhões de usuários de Internet, o que corresponde a 81% da população do país com 10 anos ou mais. Assistimos, portanto, à disseminação da Internet como um novo lócus de realização das mais diversas atividades humanas, dos negócios às interações sociais.
Mais que espaço ou suporte, trata-se de um sistema sociotécnico composto não apenas por tecnologias (redes, protocolos, dispositivos, programas), mas por instituições, pessoas, regras. A internet, portanto, é, fundamentalmente, um espaço de poder em disputa, no qual operam diversos grupos (governos, organismos multilaterais, empresas transnacionais e locais, organizações da sociedade civil), que buscam agir de acordo com seus interesses e que adotam estratégias de negócio que afetam constantemente a coletividade.
Se, antes, a rede foi pensada como um espaço aberto, de trocas igualitárias e promessas democratizantes, na última década, o que tem ocorrido é a crescente concentração da internet em torno de plataformas digitais e uma crescente inserção destas na dinâmica capitalista atual.
Em 2018, o Intervozes lançou a pesquisa Monopólios Digitais: Concentração e Diversidade na Internet, em que analisou especificamente a camada de aplicações e conteúdos. A pesquisa apontou que as grandes plataformas, como Google e Facebook, constituem monopólios digitais que são caracterizados por: (1) forte domínio de um nicho de mercado; (2) grande número de clientes, sejam eles pagos ou não; (3) operação em escala global; (4) espraiamento para outros segmentos para além do nicho original; (5) atividades intensivas em dados; (6) controle de um ecossistema de agentes que desenvolvem serviços e bens mediados pelas suas plataformas e atividades; (7) estratégias de aquisição ou controle acionário de possíveis concorrentes ou agentes do mercado.
Em síntese, as plataformas digitais se firmam na mesma lógica de disputa de atenção que a radiodifusão, obtendo os seus recursos com o mercado publicitário, entretanto, com um método mais sofisticado e complexo do que qualificar a audiência como estratégia concorrencial a partir do uso dos dados pessoais dos usuários.
A complexidade não se dá somente no modelo de funcionamento, mas pela própria natureza desses monopólios em si. O Google, por exemplo, representa uma das gigantes transnacionais, as Big Techs, empresas que concentram bilhões de pessoas em suas arquiteturas e lucram valores inimagináveis. A marca Google, por exemplo, vale atualmente 323 bilhões de dólares. Lidar com esse cenário de expansão desse modelo de negócios que interfere na autonomia do usuário é mais um desafio na agenda do direito humano à comunicação.
O Brasil possui duas legislações importantes que impactam no modelo de funcionamento das plataformas no país, o Marco Civil da Internet (MCI) – Lei n° 12.965/2014 e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). Ambas são consideradas como avanços significativos para a defesa da integralidade da rede.
O MCI foi resultado de um longo e democrático processo participativo, a partir de um modelo de regulação que se expressa na (a) da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (b) da proteção da privacidade dos dados pessoais; (c) da preservação e garantia da neutralidade de rede; (d) do direito de acesso à Internet a todos; (e) da preservação da natureza participativa da rede.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma referência em termos de proteção à privacidade e à liberdade de expressão no Brasil, sancionada em agosto de 2018 e em vigor desde setembro de 2020, a LGPD tem como objetivo o de “proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” – conforme determinado em seu Artigo 1º.
Entretanto, as duas legislações se encontram em ataque. Como exemplo dessa afirmação, está a recente Medida Provisória nº 1068, de 06 de setembro de 2021, editada pelo governo Bolsonaro, que altera o Marco Civil da Internet (MCI) e a Lei de Direitos Autorais (LDA). Em síntese, a medida estabelece regras para que as plataformas sejam obrigadas a manter no ar todo o conteúdo que o Executivo não considera passível de remoção com “justa causa” sem uma ordem judicial, como mostra nota da Coalizão Direitos na Rede.
Da mesma forma a LGPD, que desde 2020, tem a sua Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável pela fiscalização e aplicação da norma, hoje totalmente atrelada ao Executivo e nas mãos de militares, em um momento chave para aplicação dessa legislação, visto que durante os primeiros anos de trabalho da ANPD serão formulados parâmetros e diretrizes para orientação da aplicação da LGPD, ou seja, as decisões a serem tomadas pela Autoridade agora definirão como a proteção de dados se dará no futuro.
Observamos, assim, que, no Brasil, há um desafio acumulado de concentração midiática, da radiodifusão ao avanço das plataformas. Uma agenda que precisa ser tratada com a seriedade devida em prol de um aspecto fundamental da nossa democracia – a liberdade de expressão – , em que todos participem, como nos ensinou Paulo Freire, de um ciclo positivo de comunicação.
*Ana Carolina Westrup é doutoranda em sociologia na UFS, pesquisadora do OBSCOM-CEPOS e do LEEP-UFS e bolsista CNPq em Tecnologia Social
**Imagem: reprodução