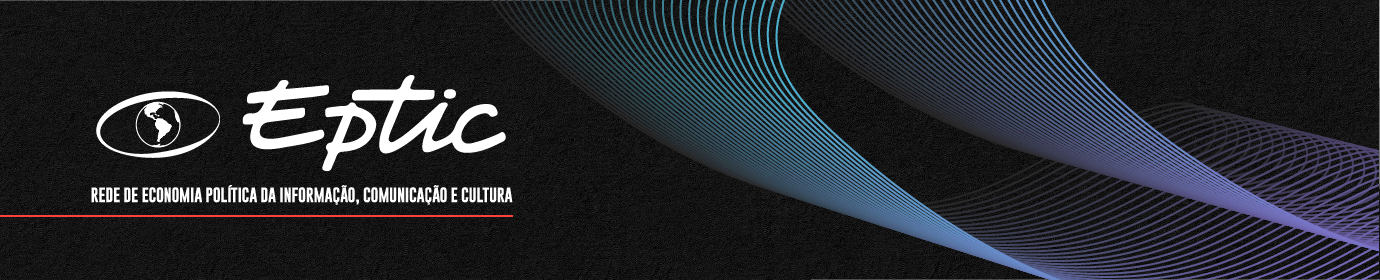Por Eduardo Silveira de Menezes (Sul 21)*
Talvez nem todos saibam, mas, ao “transformar” um dado acontecimento em notícia, os grupos de mídia acabam sendo pautados por um conjunto de subjetivos “critérios de noticiabilidade”, os quais, como bem pontuaram os autores Mauro Wolf e Nelson Traquina, representam uma suposta “cultura profissional”. Produzidas em meio à “fauna jornalística”, a maioria das reportagens apresenta características muito semelhantes. São raros os jornalistas – e mais raros ainda os veículos de comunicação – que, em meio à ditadura do tempo, conseguem dar um tom mais literário às informações factuais.
Não é necessário que o repórter esteja consciente das escolhas que faz. Os “valores-notícia” sempre estarão presentes. Ao situar-se no mundo, desde muito cedo, todo “futuro jornalista” passa a interpretá-lo a partir das suas experiências de vida e, mesmo sem dar-se conta, leva tal aprendizado para o ato de reportar um fato. O problema é a insistência, sobretudo do telejornalismo, em explorar ao máximo a “morte” – valor-notícia de seleção – e a “dramatização” – valor notícia de construção – na cobertura de atentados como o que ocorreu na cidade de Nice, na França. A data escolhida para o ataque – reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) – marca a comemoração da Festa da República Francesa. Na quinta-feira (14), mais de 80 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas após serem atropeladas por um caminhão dirigido pelo tunisiano Mohamed Lahouaiej Bouhlel.
Interesse público
É óbvio que a mídia deve fazer a cobertura do atentado – o terceiro sofrido pela França em menos de dois anos –, todavia, ao personalizá-lo, enfatizando a “morte” e o “drama” particular dos envolvidos, empresas como o Grupo Globo age com irresponsabilidade. A comoção dos familiares não possui nenhum valor jornalístico. O jornalismo é, antes de tudo, um serviço público. O principal critério para a seleção e construção da notícia deveria ser a contextualização do fato, sem personalismos.
Em matéria que foi ao ar na segunda-feira (18), pelo Jornal GloboNews, a repórter, visivelmente interessada em registrar o sofrimento de Inês Gyger – mãe da brasileira que morreu durante o ataque –, a indagou sobre “como foi receber a notícia”. Estava se referindo à confirmação da morte não só de Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro, filha de Inês, mas, também, de Kayla Ribeiro, sua neta. Nenhum manual de jornalismo do mundo dirá que o sentimento de uma avó ao ficar sabendo da morte de sua filha e neta configura-se como critério de noticiabilidade. Essa “informação” não possui nenhuma relevância para a contextualização do acontecimento.
Repórteres ou abutres?
De modo a lembrar o personagem Louis Bloom, do filme O Abutre, muitos repórteres ligados a grandes grupos de comunicação enchem os pulmões para questionar familiares de vítimas das mais diferentes tragédias sobre “como estão se sentindo” ou “como reagiram ao saber da perda dos seus parentes”. Ao contrário do que se pode pensar, o que estaria a supor uma “regra” nas entrevistas não passa de antijornalismo. Após ouvir que, ao saber da morte da filha e da neta, Inês sentiu-se “como se tivessem lhe arrancado uma parte”, a repórter, obstinadamente, procura sensibilizá-la e persiste: “como vai ser recomeçar sem uma parte, uma parte tão importante?”.
O objetivo, é bom que se diga, não é só o de levar o entrevistado ao choro e, consequentemente, causar uma comoção pública. Trata-se de algo pior. De modo a confundir os papéis, a jornalista passa a estabelecer uma espécie de “vínculo pessoal momentâneo” – pautado por um interesse imediato – com a entrevistada. Assim, o que poderia supor uma tentativa de “humanização da notícia”, mostra-se, na verdade, como uma busca envaidecida pelo reconhecimento de um trabalho jornalístico, no mínimo, duvidoso. No caso em questão, a repórter atingiu o ápice: ouviu da própria entrevistada uma mensagem de agradecimento.
Jornalismo e humanização
Ora, nada impede o jornalista de sensibilizar-se com o fato. Ele é um ser humano como qualquer outro. Ocorre que, ao midiatizar essa relação, passa-se da personalização à morte/dramatização e, finalmente, ao sofrimento, como se esse sentimento último fosse um critério de noticiabilidade. Não é. Uma possível sensibilização – e consequente aproximação – entre repórter e fonte não pode levar à busca por holofotes.
Quando a dor de um entrevistado se confunde com o relato do acontecimento encerra-se o papel do jornalismo. Em seu lugar surge outra coisa. Não é mais jornalismo. Tampouco é humano. Mais parece com um ataque de abutres, que só costumam aparecer durante as grandes catástrofes. Acabada a comoção, também termina o interesse pelos envolvidos. Novos voos chamam. Não há mais o que fazer em cena. É preciso ir atrás de outras possibilidades de exploração do sofrimento. Basta ponderar a respeito. Invariavelmente, a tentativa de “humanização” da notícia costuma se esgotar no exato momento em que deixa de gerar audiência para o veículo de comunicação.
* Eduardo Silveira de Menezes é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos e doutorando em Linguística aplicada – com ênfase em análise do discurso pêcheuxtiana – pela UCPel.