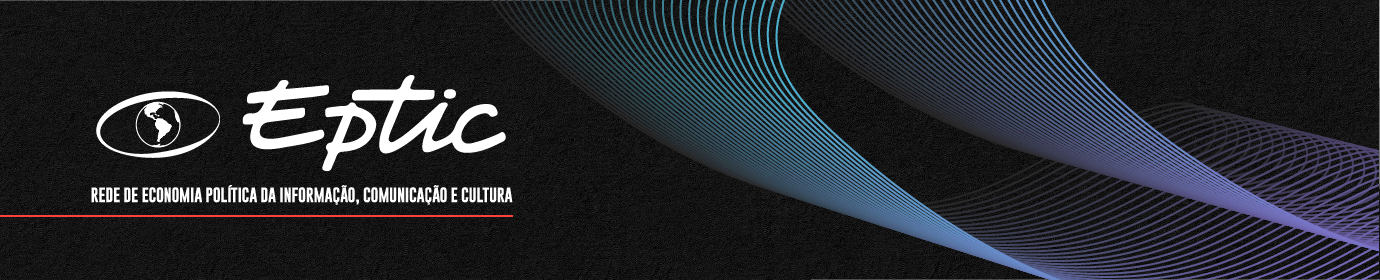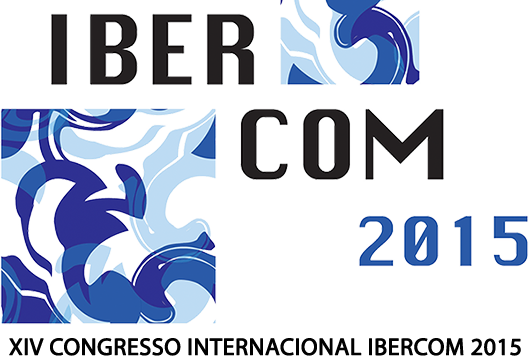Por Laurindo Leal*
Por Laurindo Leal*
O Brasil cresce, enfrenta e supera graves crises internacionais, tira milhões de pessoas da pobreza, reduz ao mínimo o desemprego, passa a ser mais respeitado internacionalmente e, no entanto, não consegue se livrar de uma de suas principais deficiências: a ausência de regras na área da comunicação.
O país que se orgulha de estar entre as dez maiores economias do mundo é uma das raras democracias em que os meios de comunicação agem sem limites, atuando apenas segundo os interesses de quem os controla. Vozes dissonantes permanecem caladas.
Dessa forma a democracia deixa de funcionar plenamente por não contar com um de seus principais instrumentos: a ampla circulação de ideias. Para enfrentar o problema é necessária a regulação da mídia, capaz de ampliar o número de pessoas que hoje tem o privilégio de falar com a sociedade.
De forma alguma trata-se de impor qualquer tipo de censura aos meios de comunicação como seus controladores insistem em dizer. Ao contrário, a regulação tem como objetivo romper com a censura que eles praticam quando escondem ou deturpam fatos que não lhes interessam.
O uso da palavra censura pelos que se opõem à regulação busca interditar o debate em torno do tema. Trata-se de uma palavra de fácil compreensão que carrega uma carga negativa muito grande, contrapondo-se a argumentos mais complexos mas necessários ao entendimento do que é regulação da mídia.
Inicialmente deve-se lembrar que estamos hoje numa sociedade capitalista onde impera a livre concorrência comercial e o direito à liberdade de expressão e opinião. As empresas concorrem entre si em busca de consumidores, cabendo ao Estado impedir apenas que controlem artificialmente o mercado tornando-se monopolistas ou oligopolistas. Quando isso ocorre elas ganham um poder capaz de impor os preços que quiserem na compra e venda dos seus produtos, acabando com livre a concorrência e prejudicando os consumidores.
Essa regra vale para os supermercados e deveria valer também para as empresas de comunicação. Neste caso, por trabalharem com a oferta de ideias e valores, o monopólio ou o oligopólio já são proibidos pela Constituição com o objetivo de garantir a liberdade de expressão de toda a sociedade e não apenas daqueles que controlam os meios.
Na prática, no entanto, o que vemos é o Estado evitando o monopólio na produção e venda de pastas de dentes ou de chocolates, por exemplo, mas permitindo que ele exista no setor de jornais, revistas, emissoras de rádio, de TV e internet. A regulação econômica da mídia é a forma de impedir a existência de monopólios também na área da comunicação.
No entanto a regulação pode e dever ir além dos limites econômicos estendendo suas regras para garantir o equilíbrio informativo, o respeito à privacidade e a honra das pessoas, os espaços no rádio e na TV aos movimentos sociais, a promoção da cultura nacional, a regionalização da produção artística e cultural e a proteção de crianças e adolescentes diante de programas e programações inadequadas às respectivas faixas etárias.
Concessões públicas
Os grandes grupos empresariais do setor se constituíram ao longo da história recente do Brasil, a partir das empresas jornalísticas que começaram a se formar ainda na primeira metade do século vinte. Algumas delas como os Diários Associados em 1935 e as Organizações Globo, em 1944, obtiveram concessões do governo para operar emissoras de rádio. Posteriormente, já nos anos 1950, argumentaram que a TV, recém chegada ao país, era apenas uma extensão tecnológica do rádio, utilizando a justificativa para receberem concessões de televisão sem a necessidade de participar de qualquer concorrência. Formaram-se assim os monopólios e oligopólios da mídia.
O rádio e a televisão são concessões públicas outorgadas pelo Estado em nome da sociedade. Empresas como Globo, Record, Bandeirantes e outras não são donas dos canais. Elas apenas receberam o direito de utilizá-los durante um período limitado de tempo que é de 10 anos para o rádio e de 15 para a televisão.
As emissoras transmitem seus sons e imagens através de um espaço conhecido como espectro eletromagnético, que é público e limitado. Ou seja, está aberto a toda a sociedade, mas têm limites físicos que não podem ser ultrapassados. Por isso ocupá-lo é um bem precioso que precisa ser regulado pelo Estado para evitar privilégios.
Esse é o primeiro e mais simples tipo de regulação necessário ao Brasil. Trata-se de estabelecer regras para o funcionamento do setor audiovisual operado na forma de concessões públicas. Para tanto basta colocar em prática, através de leis específicas, aquilo que já está previsto na Constituição de 1988 onde um capítulo, o quinto, foi dedicado a Comunicação Social.
O segundo tipo de regulação deve tratar a mídia como um todo, incluindo os meios impressos. Nesse caso são atividades privadas onde qualquer pessoa pode, possuindo capital suficiente, produzir e vender jornais e revistas. Seus responsáveis têm apenas o dever de respeitar as leis gerais do comércio e as que coíbem violações éticas.
Ainda assim, como prestadores de serviço público de informação, deveriam estar submetidos a mecanismos legais capazes, por exemplo, de abrir espaços para o direito de resposta quando notícias ou comentários por eles publicados forem considerados inverídicos ou ofensivos por qualquer pessoa.
Em ambos os casos a legislação no Brasil é frágil ou inexistente. A lei que regula o rádio e a televisão é de 1962, época em que a TV ainda era em branco e preto e o video-tape a grande novidade tecnológica. Hoje, em plena era digital, encontra-se totalmente ultrapassada, com pouca possibilidade de aplicação.
Mesmo assim o pouco que poderia ser aproveitado daquela lei, regulamentada em 1963, não é respeitado. É o caso do artigo que limita em 25% da programação diária do rádio e da TV, o tempo destinado à publicidade. Sabemos que esse limite é constantemente ultrapassado por longos intervalos comerciais, merchadisings inseridos em vários tipos de programas e por canais que dedicam-se o tempo todo a vender jóias, tapetes e gado, entre outros produtos.
No caso dos jornais e revistas a Lei de Imprensa garantia aos cidadãos o direito de resposta que poderia ser acionada quando uma pessoa se sentisse atacada injustamente. A garantia está prevista na Constituição em seu artigo 5º, inciso V, que assegura “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou à imagem”.
A aplicação se dava através da Lei de Imprensa que, em 2009, sob forte pressão das empresas de comunicação, foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal, tornando o inócuo o dispositivo constitucional. O presidente do tribunal na época, Carlos Ayres Britto, comemorou a decisão enaltecendo a liberdade absoluta da imprensa, como se os meios de comunicação pairassem acima dos interesses econômicos e políticos dos seus donos.
É esse um dos debates ao qual o Brasil precisa se lançar. É papel dos poderes públicos – governo, Congresso e Judiciário – apresentá-lo à sociedade, uma vez que está em jogo uma determinação constitucional ainda não cumprida. E é papel das organizações da sociedade comprometidas com o avanço da democracia cobrar essa dívida do país. O alcance da cidadania passa pelo direito à informação, só possível de ser exercido quando há respeito à diversidade de ideias e de culturas que permeiam nossa composição social. Cabe ao Estado mediar e conduzir essa mudança.
*Laurindo Leal Filho é Professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), membro da Rede EPTIC e colaborador do Portal EPTIC.
**Artigo publicado originalmente na Revista do Brasil, edição de dezembro de 2014.